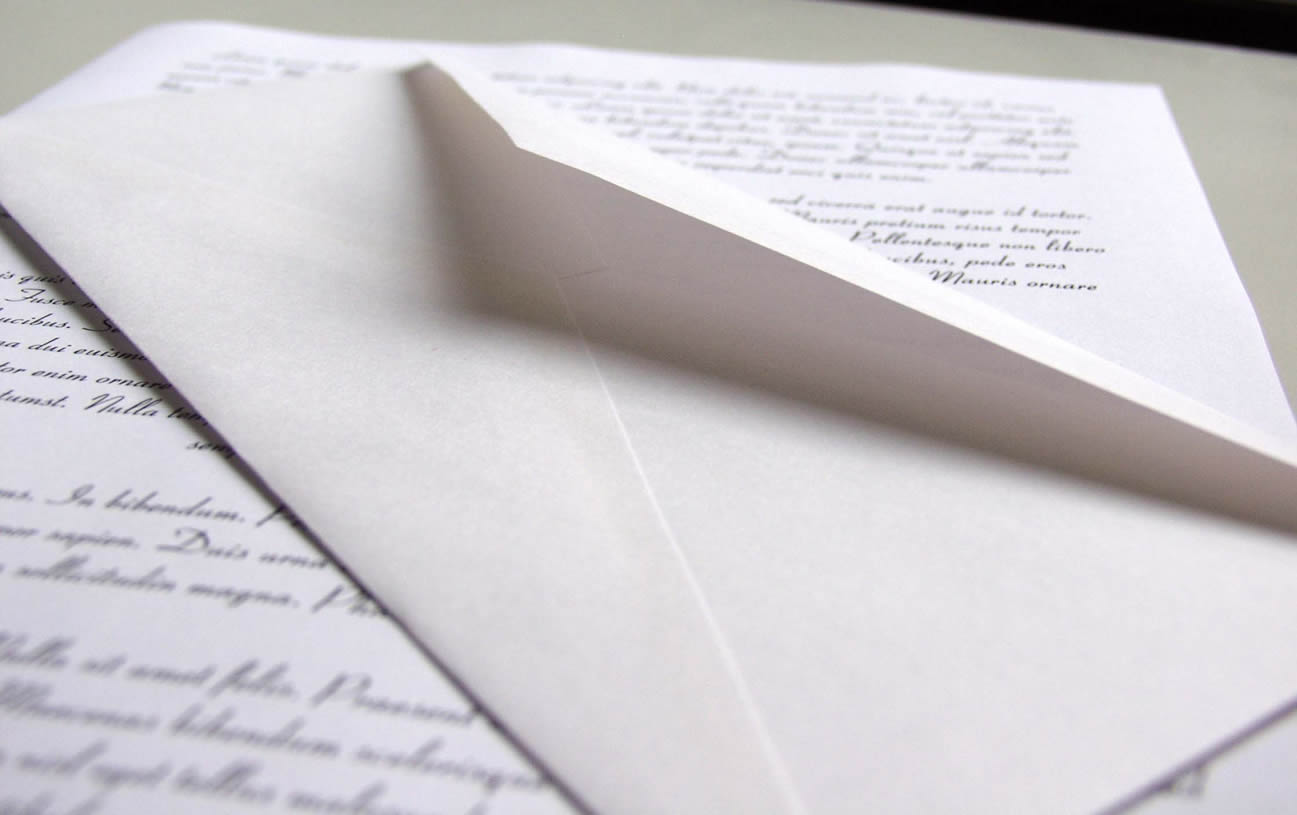Neste segundo remix da obra de Harari (2015) (H) sobre Sapiens (Breve história da humanidade), vamos estudar o segundo capítulo da primeira parte (A árvore do conhecimento). Há 150 mil anos, Sapiens ocupava a África oriental, mas passou a colonizar o planeta e exterminar outras espécies humanas há 70 mil anos; nos milênios pelo meio, mesmo que parecesse conosco (os cérebros eram grandes como os nossos), não desfrutavam de vantagens marcantes, não tinham ferramentas propriamente superiores, nem outros feitos notáveis.
I. CONVIVÊNCIAS
Consta que no primeiro encontro entre Sapiens e Neandertals, estes venceram. Há 100 mil anos, alguns grupos Sapiens migraram para o norte, rumo ao Levante, que era território dos Neandertals, mas não se firmaram, talvez devido a nativos agressivos, clima inclemente e parasitas não familiares locais. Sapiens eventualmente recuou. Este desempenho decepcionante levou pesquisadores a especular que a estrutura interna dos cérebros desses Sapiens era provavelmente diferente da nossa; pareciam-se conosco, mas as habilidades cognitivas – aprender, lembrar, comunicar-se – eram limitadas. “Ensinar a tais Sapiens antigos inglês, persuadi-lo da verdade do dogma cristão ou conseguir que entendesse a teoria da evolução seria provavelmente inciativa sem viabilidade” (H:20). Vale o reverso também: difícil para nós entender sua linguagem e entendimento. Mas, desde 70 mil anos, Sapiens passou a fazer coisas bem especiais. Deixou a África pela segunda vez, e agora varreram os Neandertals e outras espécies da face da terra. Em período curto, alcançou a Europa e Ásia oriental; há 45 mil anos, chegaram à Austrália (continente até então intocado por humanos) – este período (70 mil a 30 mil anos atrás) testemunhou a invenção de barcos, lâmpadas a óleo, arcos e flechas, além de agulhas (para fazer roupas quentes). Os primeiros objetos podem chamados arte dessa era; aparecem os primeiros vestígios de religião, comércio e estratificação social. A maioria dos pesquisadores crê que tais feitos sem precedentes foram produto de revolução nas habilidades cognitivas. Mantém que gente que levou Neandertals à extinção, colonizou a Austrália e esculpiu o homem-leão (da caverna em Stadel, Alemanha, cerca de 32 mil anos atrás) eram tão inteligentes quanto nós, criativos e sensíveis – poderíamos nos comunicar com eles plenamente, também em questões de cognição sofisticada. O aparecimento de novos modos de pensar e comunicar-se, entre 70 mil e 30 mil anos atrás, constitui a Revolução Cognitiva (H:21). O que causou isso é incerto (ainda) – a teoria mais comum sugeres que mutações genéticas acidentais mudaram a formatação interna do cérebro, capacitando pensar de modos sem precedentes e comunicar-se usando novo tipo de linguagem – podemos chamar de mutação da Árvore do Conhecimento. Por que teria ocorrido no DNA do Sapiens, não no Neandertal? Teria sido acaso puro, parece. Será mais importante trabalhar as consequências desta mutação da Árvore do Conhecimento do que suas causas. O que foi tão especial nesta linguagem que facultou conquistar o mundo?
Não foi a primeira linguagem. Todo animal tem um tipo de linguagem, até mesmo insetos: comunicam-se de modo sofisticado, informa-se entre si sobre alimento ao redor; nem foi a primeira linguagem vocal; muitos animais, também espécies de macacos, possuem isso; por exemplo, macacos verdes usam chamados de vários tipos para se comunicarem; zoólogos identificaram um chamado que significa “cuidado, águia!”; chamado um pouco diferente diz “cuidado, um leão!”. Quando pesquisadores tocaram uma gravação do primeiro chamado para um grupo de macacos, eles pararam o que estavam fazendo, olhando para cima com medo. Ouvindo a segunda gravação, logo subiram em árvores. Sapiens faz muito mais que isso; no entanto, baleias e elefantes possuem habilidades impressionantes; um papagaio imita sons notavelmente. O que seria especial em nossa linguagem? Resposta comum é que nossa linguagem é flexível – podemos conectar número limitado de sons e sinais para produzir número infinito de sentenças, cada uma com significado próprio. Podemos, então, ingerir, estocar e comunicar montante prodigioso de informação sobre o mundo à volta. Humanos podem criar uma narrativa sobre os leões, indicando local exato, observações feitas, expectativas etc. Com esta informação, os membros do bando podem reunir-se e discutir como abordar o problema, talvez caçar o leão.
Uma segunda teoria concorda que nossa linguagem única evoluiu como meio de partilhar informação sobre o mundo. Mas a informação mais importante que se transmitia era sobre humanos, não leões. A linguagem evoluiu como modo de fofocar, por sermos animais sociais, cooperativos e reprodutivos. Não basta saber o que há por aí, pois é bem mais importante conversar sobre si mesmos, suas desavenças e amizades, como se dorme, como se cria criança, quem engana a quem... O montante de informação que precisamos obter e estocar para dar conta das relações sempre mutantes de algumas dúzias de indivíduos já é enorme (Num bando de 50 indivíduos, há 1.225 relações um-a-um e infinitas combinações sociais mais complexas) (H:23). Todos os macacos mostram interesse afiado em tal informação social, mas não fofocam propriamente, embora seja essencial para a convivência em bandos maiores (Dunbar, 1998). A teoria da fofoca parece gozação, mas muita pesquisa a suporta. Até hoje, grande parte da comunicação humana, também na forma de emails, chamadas telefônicas e colunas de jornais, é fofoca. É tão natural que parece ter a linguagem evoluído para este propósito.
Harari brinca então com cientistas que, num seminário mortalmente sério, quando se encontram para comer ou pausar, não falam sobre quarks, mas provavelmente sobre o colega traído pela esposa ou sobre a briga com o diretor do departamento. Em geral fofoca é sobre malfeitos. Rumores são especialidade do quarto poder, dos jornalistas... Provavelmente ambas as teorias – da fofoca e da informação sobre o leão por perto – têm seu lugar. No entanto, a marca única da linguagem não é a habilidade de transmitir informação sobre homens e leões; mas de transmitir informação sobre coisas que não existem. Só humanos falam sem parar sobre o que nunca viram, tocaram ou cheiraram. Lendas, mitos, deuses e religiões apareceram primeiro com a Revolução Cognitiva – por exemplo, dizer que o leão é o espírito vigilante da tribo. Não será viável convencer a um macaco que nos dê sua banana, com a promessa de que vai ter muitas outras após a morte. E isto se fez coletivamente – em mitos comuns como na estória da criação bíblica, nos mitos nacionalistas. Isto deu a habilidade sem precedentes de cooperar flexivelmente em sociedades maiores – podemos cooperar de modos bem mais flexíveis.
II. LENDA DA PEUGEOT
Os primos chimpanzés em geral vivem em grupos pequenos (algumas dúzias) – fazem amizades, caçam e lutam juntos; sua estrutura social tende a ser hierárquica; o membro dominante, quase sempre um macho, chama-se “macho alfa” e os outros machos e fêmeas mostram sua submissão curvando-se para ele, enquanto fazem grunhidos, não muito diferente dos humanos. O alfa procura manter harmonia social na tropa; quando dois brigam, intervém; de modo menos benevolente, pode monopolizar comida e impedir que indivíduos inferiores copulem com as fêmeas. Quando dois contestam o alfa, foram coalizões extensivas de asseclas, machos e fêmeas, do grupo; laços entre membros da coalizão se baseiam em contato diário íntimo – abraço, toque, beijo, coçar e favores mútuos. Assim como políticos humanos em campanhas eleitorais andam à volta apertando mãos e beijando bebês, assim aspirantes ao poder gastam tempo abraçando, dando palmadinhas e beijando bebês. O alfa em geral ganha a posição não por ser mais forte fisicamente, mas porque lidera coalizão maior e mais estável. Esta é estratégica não para disputas, mas também para atividades cotidianas – os membros passam mais tempo juntos, partilham comida e se ajudam em apertos. Há limites claros de tamanho dos grupos que podem ser formados e mantidos – todos precisam conhecer-se intimamente; dois chimpanzés que nunca se haviam encontrado, lutado ou se coçado juntos, não sabem se podem confiar-se, se vale a pena ajudar-se, e quem está acima. Em condições naturais, uma tropa típica tem 25 indivíduos; ao aumentar, a ordem social se desestabiliza, levando a eventuais rupturas e formação de nova tropa. Raramente houve casos de grupos com mais de 100 em estudos zoológicos; grupos separados quase não cooperam, tendem a competir por território e comida. Pesquisadores documentaram guerra prolongada entre grupos e mesmo um caso de atividade de genocídio na qual uma tropa sistematicamente matou a maioria dos membros do outro bando (Waal, 2000; 2005. Wilson; Wrangham, 2003. Symington, 1990:49. Chapman; Chapman, 2000:26).
Possivelmente, tais padrões comportamentais dominaram as vidas sociais de humanos primitivos, incluindo Sapiens arcaico. Como macacos, humanos têm instintos sociais que possibilitavam a nossos ancestrais a formar amizades e hierarquias e a caçar ou lugar juntos. Mas isto valia para grupos pequenos íntimos; com maiores, a ordem social se esfacela e o bando cinde. Mesmo que um vale fértil pudesse alimentar 500 Sapiens, não havia como viverem juntos – como se estabeleceria liderança, quem iria caçar e onde, e quem se acasala com quem? Na esteira da Revolução Cognitiva, fofoca ajudava o Sapiens a formar bandos maiores e mais estáveis; mas mesmo isto tem limite. Pesquisa sociológica mostrou que o tamanho natural máximo de um grupo unido por fofoca está em 150. A maioria não pode conhecer intimamente, nem fofocar efetivamente com mais. Mesmo hoje, limiar crítico nas organizações humanas está em torno desse número mágico. Abaixo disso, comunidades, empresas, redes sociais e unidades militares podem manter-se com base maior em relações íntimas e fofoca. Não se precisa de rankings formais, títulos e leis para manter a ordem (Dunbar, 1998. Aiello; Dunbar, 1993:189. McCarty et alii, 2001:32. Hill; Dunbar, 2003:65).
Então, como humanos chegaram a formar cidades enormes? O segredo esteve provavelmente no aparecimento da ficção. Estranhos em grande número pode cooperar acreditando em mitos comuns. Igrejas se baseiam em mitos religiosos comuns; dois católicos que nunca se encontraram podem lutar juntos ou construir hospital, porque ambos têm a mesma crença. Nada disso existe fora das estórias inventadas e contadas. Não há deuses no universo, nem nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem leis, nem justiça, fora da imaginação comum humana. Primitivos mantinham a ordem crendo em espíritos e fantasmas, e dançando na noite de lua cheia em torno do fogo. Mas não percebemos que ainda funcionamos assim. Veja-se exemplo das empresas – empresários e advogados são, de fato, feiticeiros incisivos – a diferença principal entre eles e xamãs tribais é que advogados modernos conta estórias bem mais estranhas. A lenda da Peugeot é boa referência. Um ícone que se assemelha ao leão-homem está nos carros, caminhões e motos em todo o mundo, em geral no capô. Peugeot começou como empresa familiar em Valentigney, a 320 km da Caverna Stadel – hoje emprega 200 mil pessoas no mundo, a maioria estranha entre si, mas cooperam tão efetivamente que em 2008 Peugeot produziu mais de 1.5 milhão de carros, com ingressos de $55 bilhões de euros. O cerne da empresa é sua marca imaginária, distinta das bases físicas e das pessoas envolvidas. Se um juiz decretasse falência, desapareceria a marca, mas os prédios e carros continuam. Advogados chamam a isso de “ficção legal” – existe como entidade legal. Está ligada a leis dos países onde opera; podem abrir contas bancarias e ter propriedade; paga impostos e pode ser processada, também em separado dos donos. Pertence ao gênero particular de ficções legais chamado “empresas de responsabilidade limitada” – a ideia por trás é uma das invenções mais engenhosas. Sapiens viveu milhões de anos sem isso. Durante a maior parte da história registrada, propriedade podia ser possuída por gente de carne e osso. Na França do século XIII, quem tinha um negócio, era ele mesmo o tocador, era o negócio. Se o produto fosse ruim, seria processado em pessoa. Se tomasse mil moedas de ouro emprestadas para montar seu negócio e este falisse, teria como pagar, vendendo a propriedade – sua casa, vaca, terra. Talvez viesse mesmo a vender seus filhos em servidão. Se não cobrisse a dívida, poderia ficar na cadeia ou ser escravizado pelos credores. Era responsável plenamente. Era mesmo difícil ser empresário. E por isso passou-se a imaginar empresas de responsabilidade limitada – legalmente independentes das pessoas que as organizam ou onde investem dinheiro ou as gerem.
Nos séculos recentes, tais empresas viraram atores principais da arena econômica e somos tão acostumados com elas que esquecemos ser imaginárias. Nos Estados Unidos, o termo técnico usado é “corporação”, que é irônico, pois o termo deriva de “corpus” (corpo em latim) – o que precisamente tais corporações não têm. Mesmo não tendo corpos reais, o sistema legal trata como pessoas legais, também o sistema legam francês desde 1896, quando Armand Peugeot, que havia herdado dos pais uma loja de metais que produzia molas, serras e bicicletas, decidiu entrar na produção de veículos. Foi uma companhia de responsabilidade limitada, com seu nome, mas era independente. Se um dos carros quebrasse, o comprador pode processar a Peugeot, mas não o Sr. Peugeot. Este morreu em 1915, mas não a empresa. Criou a empresa de modo similar a sacerdotes e feiticeiros ao criarem deuses e demônios, ou como padres franceses criam o corpo de Cristo na missa dominical. Contam-se estórias e as pessoas se convencem delas. Harari parodia a missa católica, um pouco inclementemente. No caso de Peugeot a estória crucial era o código legal, constitucional. Seguindo liturgia e ritos, e com devidas vestimentas e ornamentos, mais juramentos aqui e ali, surge empresa. Quando em 1896, Peugeot quis criar sua empresa, pagou a um advogado para vencer todos os rituais e procedimentos exigidos; milhões de franceses creram que a empresa existia mesmo.
Mas, contar boa estória não é fácil (H:30). Contar até é fácil, difícil é persuadir a crer em deuses, nações ou empresas. Isto, porém, dá ao Sapiens imenso poder, porque arrasta milhões de cooperadores. Não seria viável criar estados, igrejas ou sistemas legais, se falássemos apenas de coisas que existem de fato, como rios, árvores ou leões. As pessoas se engalfinharam em torno de estórias do arco da velha; em tais redes, ficções como Peugeot não só existem, como acumulam poder imenso. São “construtos sociais” ou “realidades imaginadas”, para a academia. Não é mentira – mentira é quando digo que um leão está perto do rio e não há nenhum leão aí. Nada de especial com mentiras – macacos mentem também. Um macaco verde foi visto dizendo “Cuidado! Um leão!”, quando não havia. O alarme atemorizou o companheiro que fugiu deixando a banana para o malandro. Ao contrário de mentira, realidade imaginada é algo em que todos creem, e persistindo isso, exerce força no mundo. O escultor da caverna Stadel pode ter sinceramente crido na existência do espírito guardião do leão-homem; alguns feiticeiros são charlatães, mas a maioria é sincera; a maioria dos milionários sinceramente creem na existência de dinheiro e empresas de responsabilidade limitada. “A maioria dos ativistas dos direitos humanos acreditam na existência dos direitos humanos. Ninguém mentia quando, em 2011, a ONU pediu que o governo líbio respeitasse direitos humanos dos cidadãos, mesmo que ONU, Líbia e direitos humanos sejam fingimentos de imaginações férteis. Desde a Revolução Cognitiva, Sapiens passou a viver em realidade dual. Num lado, a realidade objetiva dos rios, árvores e leões; noutro, a imaginada dos deuses, nações e empresas. Com o tempo a realidade imaginada se tornou tanto mais poderosa, a ponto de rios, árvores e leões dependerem das entidades imaginadas como Estados Unidos e Google.
Harari faz uma “gozação” bem humorada para desvelar que a realidade por trás da imaginada é feita de teias de poder invisível, mas não menos efetivo. Mas seria o caso lembrar que a Revolução Cognitiva tem como um de seus esteios o poder de abstração e modelagem da mente humana – a ciência também é “construto social”, em suas teorias que só existem na mente dos cientistas. Não há teoria andando por aí, morando lá, vestindo isso ou aquilo. Mas, com sua instrumentação chegamos à Lua – são extremamente efetivas, como religiões são. O abstrato é parte do concreto, não sendo talvez bem o caso falar de realidade dual – é a mesma realidade de fundo, mas abstraída de modos diferenciados. Não dá para viver no mundo físico dos físicos, nem eles podem; vivemos em realidades concretas bem diferentes. São duas realidades? Certamente, não, ainda que até hoje não tenhamos deslindado tais mistérios da mente.
III. ULTRAPASSANDO O GENOMA
Estando cooperação humana de larga escala fundada em mitos, o modo de cooperar pode ser alterado mudando os mitos – inventando outras estórias. Em circunstâncias adequadas, mitos podem mudar rapidamente. Em 1789, a população francesa mudou da noite para o dia de crer no mito do direito divino dos reis para crer no mito da soberania popular. Desde a Revolução Cognitiva, Sapiens é capaz de revisar sem comportamento rapidamente de acordo com as necessidades. Isto abriu uma avenida da evolução cultural, ultrapassando barreiras de tráfego da evolução genética e com isso avançou muitíssimo além de outras espécies na habilidade de cooperar. O comportamento de outros animais sociais é determinado em grande medida pelos genes. “DNA não é autocrata” (H:32). Comportamento animal é influenciado também por fatores ambientais e encrencas individuais. Contudo, em dado ambiente, animais da mesma espécie tenderão a comportar-se de modo similar. Mudanças significativas em comportamento social não podem ocorrer, em geral, sem mutações genéticas. Por exemplo, chimpanzés comuns possuem a tendência genética de viver em grupos hierárquicos puxados por um macho alfa. Bonobos são mais igualitários, em geral dominados por alianças femininas, mas não fazem assembleias e escrevem uma constituição. Para tamanha mudança, há que haver também mudança genética. Humanos arcaicos não aprontaram nenhuma revolução; mudanças no padrão social, a invenção de novas tecnologias e a colonização de habitats estranhos resultaram de mutações genéticas e pressões ambientais mais do que de iniciativas culturais.
Eis a razão da demora para isto florescer; dois milhões de anos atrás, houve mutações genéticas que eclodiram no aparecimento de nova espécie humana chamada Homo erectus – esta emergência foi acompanhada pelo desenvolvimento de nova tecnologia da pedra, agora reconhecida como traço definitório desta espécie. Sem novas mutações genéticas, sua tecnologia estagnou por quase dois milhões de anos! Ao contrário, desde a Revolução Cognitiva, Sapiens foi capaz de mudar seu comportamento rapidamente, transmitindo novos comportamentos a gerações futuras sem necessidade de mudança genética ou ambiental. Harari dá como exemplo o aparecimento de elites sem filhos, como sacerdotes católicos, budistas, burocracias chinesas de eunucos. Vai contra princípios fundamentais da seleção natural abandonar a procriação, via abstinência sexual. Isto só pode ser curtido sobre mitos poderosos e crenças. Harari dá a entender, nas entrelinhas, que é difícil entender tais comportamentos, mesmo mantidos por milênios e em culturas tão diferentes, mas talvez emerja aí certa dose excessiva de “crença” no método científico, onde fés não cabem. Mas humanos sempre curtiram fés como fundamentos de suas existências, com lados positivos e negativos, certamente. Tem razão em alegar o quanto parece estranho que alguém decida viver em celibato – mas não é enfermidade; é fé. Muitos dirão que fé é alienação, excrescência evolucionária, mas sendo tão comum em humanos, talvez seja o caso achar normal.
Constrói um exemplo: um residente em Berlim de 1900 e chegando aos 100 anos; passou a infância no Império dos Hohenzollern de Guilherme II; a idade adulta na República de Weimar, no Terceiro Reich Nazista e na comunista Alemanha oriental; morreu cidadã de uma Alemanha democrática e reunificada; fez parte de cinco sistemas sociopolíticos bem diversos, mas o DNA foi o mesmo. Eis a chave do sucesso do Sapiens – na luta corpo a corpo, o Neandertal teria batido o Sapiens. Mas em conflito com centenas, não. Neandertals podiam colher informação sobre leões á volta, mas não faziam disso narrativa, incluindo espíritos. Sem ficção, não há cooperação! Tinham cognição limitada, a julgar por seus restos arqueológicos em sites no centro europeu – ocasionalmente acharam conchas marinhas do Mediterrâneo e Atlântico – parece que tais conchas foram para o interior continental via comércio entre bandos de Sapiens. Sítios de Neandertals não têm vestígios de comércio, cada grupo manufaturava suas ferramentas e materiais locais (Taborin, 1993).
Outro exemplo do Pacífico sul. Bandos de Sapiens que viviam na ilha de Nova Irlanda, ao norte da Nova Guiné, usavam vidro vulcânico chamado obsidiana para manufaturar ferramentas particularmente fortes e afiadas. Mas aí não há depósito de obsidiana; testes de laboratórios revelaram que a obsidiana usada foi trazida de depósitos na Nova Guiné, uma ilha a 402 km de distância (Summerhayes, 1998). Comércio foi atividade bem pragmática, sem base ficcional, mas é fato que nenhum outro animal, a não ser o Sapiens, se envolveu nisso com base em ficções. Comércio não existe sem confiança, e é bem difícil confiar em estranhos. A rede global de comércio de hoje baseia-se na confiança em tais entidades fictícias como dólar, Banco Central americano, marcas totêmicas de empresas. Quando dois estranhos se encontram em sociedade tribal e querem comerciar, muitas vezes apelam para confiança via deus comum, ancestral mítico ou totem animal. Se podiam comerciar bens, permutavam também informação, cirando rede mais densa de ampla de conhecimento. Técnicas de caça são outro argumento das diferenças. Neandertals costumavam caçar sozinhos ou em grupos pequenos; Sapiens, por sua vez, desenvolveu técnicas que repousavam em cooperação entre muitas dezenas de indivíduos e talvez mesmo entre bandos diferentes. Método bem eficaz era cercar um bando inteiro de animais, como cavalos selvagens, e então caçar à distância pequena, sendo possível matar em massa, conforme planejamento prévio. Arqueólogos descobriram sítios onde bandos inteiros foram mortos anualmente assim. Há mesmo sítios onde cercas e obstáculos foram erigidos para fazer arapucas artificiais. Havendo violência entre Neandertals e Sapiens, os primeiros não eram muito melhores que cavalos selvagens; mesmo que Sapiens perdesse o primeiro round, podiam se reprogramar em novos estratagemas na próxima.
Assim, cultura passou a força evolucionária, rivalizando com o DNA, cuja proporção é sempre objeto de muita querela científica. Isto poderia também dar outra luz sobre religiões, não como esquisitice aos olhos científicos, mas como tecnologias do espírito para dar sentido à vida, organizar razões de ser, morais, apegos e felicidades. Religiões são também armas de guerra, mas não menos ciência.
IV. REVOLUÇÃO COGNITIVA
Nova habilidade
|
Consequências mais amplas
|
| Habilidade de transmitir quantidades mais amplas de informação sobre o mundo à volta do Homo sapiens | Planejar e executar ações complexas, como evitar leões e caçar bisão |
| Habilidade de transmitir quantidades maiores de informação sobre relações sociais do Sapiens | Grupos maiores e mais coesivos chegando a 150 indivíduos |
| Habilidade de transmitir informação sobre coisas que não existem realmente, tais como espíritos tribais, nações, empresas de responsabilidade limitada e direitos humanos | a) Cooperação entre grandes números de estranhos;
b) inovação rápida de comportamento social (H:37). |
Surge parceria entre história e biologia (H:37). A diversidade imensa de realidades imaginadas inventadas pelo Sapiens e resultante pletora comportamental são peças centrais do que chamamos “culturas”. Tendo aparecido, nunca cessaram de mudar, desenvolver-se e alterações imparáveis é o que chamamos de “história”. É o ponto em que história se livra da biologia; até então, os feitos humanos pertenciam ao reino da biologia, ou à pré-história). Depois, narrativas históricas substituíram teorias biológicas como meios primordiais de explicar o desenvolvimento do Sapiens. Para entender o surgimento da Cristandade ou a Revolução Francesa, não basta compreender a interação de genes, hormônios e organismos; é mister tomar em conta a interação de ideias, imagens e fantasias também. Não significa que biologia sumiu, já que continuamos animais, sendo que habilidades físicas, emocionais e cognitivas são moldadas pelo DNA ainda. Nossas sociedades são constituídas dos mesmos blocos de construção dos Neandertals e chimpanzés, e quanto mais examinamos – sensações, emoções e laços familiares – tanto menos diferença achamos. Mas é erro olhar as diferenças ao nível do indivíduo ou família. Uma a um, ou dez a dez, somos “embaraçosamente” (Ib.) similares a chimpanzés. Diferenças significativas começam a aparecer quando ultrapassamos limiar de 150, chegando a mil ou dois mil, tornando-se estupefacientes. Reunindo milhares de chimpanzés, só vai dar confusão; mas Sapiens se reúnem aos milhões, bilhões. Juntos criam padrões como redes de comércio, celebrações e instituições políticas...
A diferença real entre nós e chimpanzés é a cola mítica que nos une em números bastos de indivíduos, famílias e grupos. Isto nos fez mestres da criação (H:38). Precisamos de outras habilidades, como de fazer ferramentas, mas isto será de pouca consequência sem vínculo com a habilidade de cooperar em multidões. Como foi que agora temos mísseis intercontinentais com ogivas nucleares, enquanto há 30 mil anos tínhamos apenas lanças primitivas? Fisicamente não houve melhoria significativa na capacidade de fazer ferramentas nos últimos 30 mil anos. Mas nossa capacidade de cooperar com grandes números de estranhos melhorou demais. Uma lança se faz rápido, com ajuda de parceiros, mas um míssil com ogiva atômica pede cooperações de milhões de estranhos...
Em suma, a relação entre biologia e história ficou assim na Revolução Cognitiva: i) biologia põe parâmetros básicos para comportamento e capacidades do Homo sapiens; a história toda ocorre dentro dos limites desta arena biológica; ii) contudo, esta arena é extraordinariamente ampla, permitindo ao Sapiens jogar variedade estonteante de jogos; graças à habilidade de inventar ficção, Sapiens cria jogos mais e mais complexos, que cada nova geração elabora e desenvolve ainda mais; iii) consequentemente, para entender como Sapiens se comportam, precisamos descrever a evolução histórica de suas ações; referir-se apenas às constrições biológicas seria como um locutor de rádio esportivo, assistindo à Copa do Mundo, dar apenas uma descrição do campo, ao invés do que os jogadores fazem (H:38).
CONCLUSÃO
Harari se apega ao lado fictício mental da produção imaginária, também porque isso lhe dá chance de fazer uma paródia ferina interessante. Mas poderia ter sublinhado a capacidade de abstração modelar, base da cognição dita científica, em especial no uso da matemática (algo tipicamente abstrato), para enfrentar um dos desafios maiores epistemológicos: para entender o concreto é preciso abstrair dele! A realidade não é o que parece. No mundo da ficção, porém, é o caso fazer distinções importantes como é a ficção religiosa e científica – possivelmente ambas são essenciais evolucionariamente, mas hoje apreciamos bem mais a segunda (como faz Harari com picardia). O mundo científico pode ser visto como ficção – Einstein gostava de partir de experimentos mentais – mas é uma ficção matematizada, bem diferente de um conto de fadas. Precisamos deste também, porém.
REFERÊNCIAS
AIELLO, L.C.; DUNBAR, R.I.M., 1993. ‘Neocortex Size, Group Size, and the Evolution of Language’, Current Anthropology 34:2 (1993).
CHAMPLAN, C.A.; CHAPMAN, L.J. 2000. ‘Determinants of Groups Size in Primates: The Importance of Travel Costs’, in On the Move: How and Why Animals Travel in Groups, ed. Sue Boinsky and Paul A. Garber (Chicago: University of Chicago Press, 2000).
DUNBAR, R. 1998. Grooming, Gossip and the Evolution of Language (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998).
HARARI, Y.N. 2015. Sapiens: A brief history of humankind. Harper, London.
HILL, R.A.; DUNBAR, R.I.M. 2003. ‘Social Network Size in Humans’, Human Nature 14:1 (2003).
MCCARTHY et alii, 2001. ‘Comparing Two Methods for Estimating Network Size’, Human Organization 60:1 (2001).
SUMMERHAYES, G.R. 1998. ‘Application of PIXE-PIGME to Archaeological Analysis of Changing Patterns of Obsidian Use in West New Britain, Papua New Guinea’, in Archaeological Obsidian Studies: Method and Theory, ed. Steven M. Shackley (New York: Plenum Press, 1998), 129–58.
SYMINGTON, M.F. 1990. ‘Fission-Fusion Social Organization in Ateles and Pan’, International Journal of Primatology 11:1 (1990).
TABORIN, Y. 1993. ‘Shells of the French Aurignacian and Perigordian’, in Before Lascaux: The Complete Record of the Early Upper Paleolithic, ed. Heidi Knecht, Anne Pike-Tay and Randall White (Boca Raton: CRC Press, 1993), 211–28.
WAAL, F. 2000. Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000).
WALL, F. 2005. Our Inner Ape: A Leading Primatologist Explains Why We Are Who We Are (New York: Riverhead Books, 2005).
WILSON, M.L.; SRANGHAM, R.W. 2003. ‘Intergroup Relations in Chimpanzees’, Annual Review of Anthropology 32 (2003), 363–92.