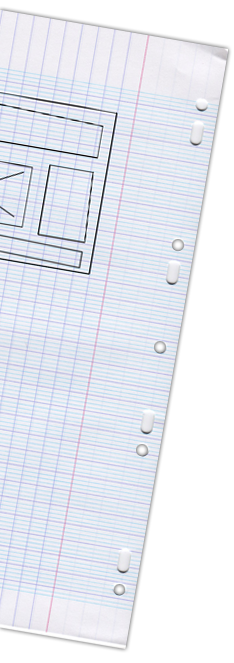Harari (2015) (H) teve êxito editorial maiúsculo com seu “Sapiens: A brief history of mankind”, mexendo com muitas sensibilidades sobre a saga humana até aqui na história. Começa com uma “linha do tempo da história”, desde 13.5 bilhões de anos, até ao presente e futuro[1]. Foi surpreendente que um apanhado da história humana (que chama de “breve”) tivesse tanto impacto, em parte devido ao modo de colocar as coisas, as provocações interpostas, os recados nas entrelinhas, a interpretação inteligente. Nesta parte vamos estudar o que chama de Revolução Cognitiva, que vamos dividir em quatro capítulos.
I. UM ANIMAL DE DE NENHUMA SIGNIFICAÇÃO
“Cerca de 13.5 bilhões anos atrás, matéria, energia, tempo e espaço chegaram à existência no que se conhece como Big Bang. A estória dessas características fundamentais de nosso universo é chamada física. Cerca de 300 mil anos após seu aparecimento, matéria e energia passaram a coalescer em estruturas complexas, chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas. A estória dos átomos, moléculas e suas interações é chamada química. Cerca de 3.8 bilhões de anos atrás, num planeta chamado Terra, certas moléculas se cominaram para formar estruturas particularmente amplas e intrincadas chamadas organismos. A estória dos organismos é chamada biologia. Cerca de 700 mil anos atrás, organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar mesmo estruturas mais elaboradas chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é chamado história” (H:3). Harari divisa três revoluções incisivas no curso da história: a cognitiva que deslanchou a história há cerca de 70 mil anos; a agrícola que espalhou-se há cerda de 12 mil anos; a científica, que entrou em cena apenas há 500 anos, e que pode terminar a história e começar algo completamente diferente.
É o objetivo do livro: contar a estória das três revoluções que afetaram humanos e organismo parceiros. Houve humanos bem antes de haver história; animais muito similares a humanos modernos apareceram primeiro há cerca de 2.5 milhões de anos; mas por gerações incontáveis não conseguiram destacar-se dos outros organismos como que coabitavam. Na África oriental, há 2 milhões de anos, podíamos achar um elenco familiar de caracteres humanos: mães ansiosas embalando seus bebês e grupos de crianças soltas brincando na lama; jovens temperamentais brigando contra ditames da sociedade e idosos preocupados que ficarem em paz; machos batendo no peito tentando impressionar a beleza local e matriarcas velhas sábias que já haviam visto de tudo. Esses humanos arcaicos amavam, brincavam, faziam amizades estreitas e competiam por status e poder – mas igualmente chimpanzés, babuínos e elefantes. Não havia nada de especial em relação a humanos. Ninguém, menos ainda nos humanos, parecia haver qualquer indício de que seus descendentes iriam um dia chegar à lua, partir o átomo, destrinchar o código genérico e escrever livros de história.
Para Harari, esta foi a marca da pré-história humana – animais sem significação maior. Biólogos classificam organismos em espécies. Animais se dizem da mesma espécie se tendem a acasalar-se entre si, produzindo crias férteis. Cavalos e asnos têm ancestral comum recente e partilham muitos traços físicos; mas mostram pouco interesse sexual entre si. Acasalam-se apenas se induzidos, mas suas crias, as mulas, são estéreis. Mutações no DNA do asno não podem cruzar para o dos cavalos, e vice-versa; são, pois, duas espécies distintas. Ao contrário, um buldogue e um spaniel podem até parecer diferentes, são membros da mesma espécie, partilhando o mesmo pool de DNA; acasalam-se bem e suas crias crescem capazes de acasalarem-se com outros cães e procriar. Espécies evoluídas de ancestral comum são agrupadas sob o epíteto de “gênero”; leões, tigres, leopardos e jaguares são espécies diferentes do gênero Panthera. Biólogos etiquetam organismos com nome e gênero latino de duas partes, seguido por espécie; leões, por exemplo, são chamados de Panthera leo, a espécie leo do gênero Panthera. O Homo sapiens – a espécie sapiens (sábio) do gênero Homo (homem). Gêneros são agrupados em famílias, como os gatos (leões, chitas, gatos domésticos), e cães (logos, raposas e chacais) e os elefantes (elefantes, mamutes e mastodontes). Todos os membros de uma família recuam sua linhagem uma matriarca ou a um patriarca fundador. Todos os gatos, por exemplo, desde o menorzinho caseiro ao leão mais feroz, partilham ancestral felino comum que viveu há cerca de 25 milhões de anos. Homo sapiens, também, pertence a uma família; este fato banal costumava ser um dos segredos mais guardados, pois Homo sapiens sempre preferiu ver-se como separado dos animais, um órfão sem família, sem parente ou primos e, mais importante, sem progenitores. Quer se goste ou não, somos membros de uma família ruidosa e grande chamada de grandes macacos. Nossos parentes mais próximos incluem chimpanzés, gorilas e orangotangos, sendo chimpanzés os mais próximos. Há apenas 6 milhões de anos, uma única fêmea macaca teve dois filhos; um virou o ancestral de todos os chimpanzés, outro é nosso avô.
Este modo de contar a história humana tem sido trunfo fundamental do êxito de Harari. Simples, elucidativo, bem informado, divertido. Humanos são animais, têm ancestrais, são de uma família de macacos. Evolucionariamente, nada especial, porque a evolução é apenas normal.
II. ESQUELETOS NO BANHEIRO
Gostamos de nos ver como humanos únicos, como se tivéssemos saído do nada. Ao contrário, temos um bocado de primos não civilizados. Na verdade, o sentido de humano é de um animal pertencendo ao gênero Homo, tendo havido muitas espécies neste gênero, além do Homo sapiens. Há 10 mil anos, de fato, somos a única espécie humana que restou. Ao final da história atual pode ocorrer que sobrevenham humanos não-sapiens, tecnologicamente. Harari usa, em geral, sapiens para denotar membros da espécie Homo sapiens, e reserva “humano” para denotar membros do gênero Homo. Humanos evoluíram primeiro na África oriental há cerca de 2.5 milhões de anos de um gênero prévio de macacos chamados Australopitecos, que significa “macaco do sul”. Há cerca de 2 milhões de anos, alguns desses homens e mulheres arcaicos deixaram sua pátria para viajar e colonizar áreas da África do norte, Europa e Ásia. Exigindo a sobrevivência nas florestas nevadas da Europa do norte traços diferentes daqueles indonésios com florestas tropicais, populações humanas evoluíram em direções diversas. Resultaram distintas espécies, com nome latino pomposo (Homo rudolfensis [África oriental]; erectus [Ásia oriental], neanderthalensis [Europa e África]). Humanos na Europa e Ásia ocidental evoluíram para Homo neanderthalensis (Homem do Vale Neander) (o neandertal); mais fortes e musculosos do que nós sapiens de hoje, estavam bem adaptados ao clima frio da era glacial na Eurásia ocidental.
Já as regiões mais orientais da Ásia estavam habitadas pelo Homo erectus (Homem ereto), que sobreviveu perto de 2 milhões de anos, tendo sido a espécie mais duradoura até então, um recorde que nossa turma dificilmente vai quebrar, pois é duvidoso que Homo sapiens esteja por aí a mil anos de hoje e dois milhões nem se fala. Na ilha de Java (Indonésia) viveu Homo soloensis (Homem do Vale Solo), adaptado aos trópicos. Oura ilha indonésia – Flores – humanos arcaicos sofreram processo de nanismo – chegaram a flores quando o nível do mar estava excepcionalmente raso, tornando a ilha acessível; subindo o mar, alguns ficaram por lá, em situação de penúria. Humanos grandes, com muita necessidade de comida, morreram antes; menores sobreviveram melhor. Em gerações, as pessoas de Flores se tornaram anões; esta espécie única, conhecida por cientistas como Homo floresiensis, tinham altura máxima de cerca de 1 metro e pesavam 25 quilos; mas eram capazes de produzir ferramentas de pedra e ocasionalmente caçar até elefantes, ainda que também os elefantes fossem uma espécie de exemplares menores.
Em 2010, outro parente foi resgatado do esquecimento, quando cientistas escavaram a Caverna Denisova na Sibéria e descobriram osso fossilizado do dedo; análises genéticas provaram que o dedo era de uma espécie não conhecida antes da espécie humana, que passou a chamar-se Homo denisova. Não seria surpresa achar, no futuro, outros parentes. O berço da humanidade continua a nutrir outras novas espécies, como Homo rudolfensins (Homem do Lago Rudolf), Homo ergaster (Homem trabalhador) e eventualmente nossa própria espécie, que sem modéstia alguma alcunhamos de Homo sapiens (Homem sábio). Alguns deles foram parrudos, outros anões; alguns foram caçadores temíveis e outros coletores/agricultores; alguns viviam numa única ilha, enquanto muitos perambulavam nos continentes – mas todos eram do gênero Homo, seres humanos. É falácia visualizar essas espécies como arranjadas em linha reta de descendência, com Ergaster resultando no Erectus, este no Neandertal e este em nós. Modelos lineares sugerem que, em dado momento, apenas um tipo de humano habitava a terra, e todas as espécies anteriores eram meramente modelos mais velhos de nós mesmos. A verdade é que desde há 2 milhões de anos até 10 mil anos, o mundo era lar, ao mesmo tempo, de muitas espécies humanas, como há muitas espécies de cães, porcos, gatos... O mundo antigo teve pelo menos seis espécies diferentes humanas. O que é peculiar é nossa atual exclusividade, não a multiplicidade de espécies, sob suspeita... Como se há de ver, nos Sapiens temos razões para reprimir a memória dos parentes (exterminados) (H:8).
III. CUSTO DE PENSAR
Mesmo com tantas diferenças, as espécies humanas compartilham características definitórias, em especial cérebros grandes; mamíferos pesando quase 60 quilos têm cérebro médio de 30 cm3. Os primeiros homens e mulheres, há 2.5 milhões de anos, tinham cérebros de 91 cm3. Modernos Sapiens têm cérebro de 185 – 215 cm3. Cérebros dos Neandertals eram ainda maiores, mas inteligência não depende apenas de tamanho cerebral. Cabe perguntar por que cérebros gigantes são tão raros no reino animal? No Sapiens, o cérebro responde por 2-3% do peso do corpo, mas consome 25% da energia do corpo em repouso – em outros animais, o consumo pode ser de apenas 8%. Humanos arcaicos pagavam por cérebros grandes de dois modos; primeiro, gastavam mais tempo em busca de comida; segundo, seus músculos atrofiavam – humanos derivaram energia do bíceps para os neurônios, embora fosse estratégia ótima para a sobrevivência na savana. Um chimpanzé não pode filosofar com umHomo Sapiens, mas pode fazê-lo em pedaços como uma boneca. Hoje, cérebro grande vale por demais a pena, bastando levar em conta os feitos tecnológicos, ainda que isto tenha vindo bem mais tarde. No início, à parte algumas facas e pontoes de pedra, humanos tinham pouco a mostrar. Então, o que levou em frente a evolução humana? Não se sabe. Outro traço singular é o andar ereto sobre duas pernas. Ficar de pé facilita vasculhar a savana para buscar caça e antecipar-se ao inimigo, e braços liberados da locomoção poder fazer outras coisas importantíssimas, como jogar pedra e flechas ou sinalizar. Quanto mais coisas as mãos fazem, tanto maior êxito se garante na manipulação da natureza, razão pela qual humanos melhoraram nervos e músculos finos nas palmas da mão e dedos. Podem fazer ferramentas sofisticadas. A primeira evidência de produção de ferramenta data de cerca de 2.5 milhões de anos atrás, e isto é critério pelo qual arqueólogos reconhecem antigos humanos.
Andar ereto teve, porém, seu custo, já que o andaime tinha de carregar crânio grande – pagava-se pela visão mais ampla e mãos industriosas com dores nas costas e pescoços endurecidos. Mulheres pagaram bem mais, exigindo cinturas mais estreitas, constringindo o canal do parto – e isto logo agora que bebês eram cada vez maiores – morte no parto tornou-se mais comum. Mulheres que davam à luz mais cedo, quando o cérebro da criança ainda era relativamente pequeno e macio, saíam-se melhor e sobreviviam para terem mais filhos. A seleção natural favoreceu, então, nascimentos mais cedo; de fato, comparados com outros animais, humanos nascem prematuros, quando muito de seus sistemas vitais estão subdesenvolvidos. Um potro logo troteia após nascer; um gatinho já se cuida algumas semanas depois de nascer; bebês humanos dependem por muitos anos dos mais velhos. Mas isto contribuiu para as habilidades sociais extraordinárias humanas, bem como para problemas sociais únicos. Mães sozinhas dificilmente conseguiam sustentar suas crias e a si mesmas com outras crias no pé. Crianças crescendo impunham necessidade constante de ajuda de outros membros da família e vizinhos – é preciso uma tribo para criar um humano. Evolução, assim, favoreceu a quem criou laços sociais fortes. Ademais, já que humanos nascem subdesenvolvidos, podem ser educados e socializados em extensão bem maior do que outros animais. “A maioria dos mamíferos emerge do ventre como cerâmica vidrada emergindo de um forno – toda tentativa de remoldar irá apenas arranhar ou quebrar” (H:9). Já humanos emergem do ventre como vidro fundido de uma fornalha – podem ser talhados, esticados e moldados com grau surpreendente de liberdade. “É por isso que hoje podemos educar nossos filhos para tornarem-se cristãos ou budistas, capitalistas ou socialistas, beligerantes ou pacíficos” (Ib.).
Assumimos que cérebro grande, uso de ferramentas, habilidades superiores de aprendizagem e estruturas sociais complexas são vantagens incisivas. Parece evidente que isto fez da humanidade o animal mais poderoso na terra. Mas humanos desfrutaram tais vantagens por plenos 2 milhões de anos, nos quais eram criaturas fracas e marginais. Assim, humanos de há um milhão de anos, mesmo com cérebros grandes e ferramentas de pedra, viviam atemorizados por predadores, quase nunca caçavam coisa grande e subsistiam mormente colhendo plantas, pegando insetos e assaltando animais, ou comendo restos de carne deixados por carnívoros. Um dos usos mais comuns era quebrar ossos com ferramentas de pedra para chegar à medula – alguns pesquisadores creem que este foi nosso nicho original – assim como pica-paus se especializam em extrair insetos de troncos de madeira, os primeiros humanos se especializaram em extrair medula dos ossos. Por quê? Leões derrubam uma girafa e a devoram; espera-se pacientemente, até depois que hienas e chacais façam sua parte; só depois, chegam humanos, com cuidado extremo. Isto é chave para entender nossa história e psicologia. A posição na cadeia alimentar era, até bem recentemente, no meio; por milhões de anos, humanos caçavam criaturas menores e colhiam o que podiam, sendo facilmente caçados por predadores. Só há 400 mil anos várias espécies humanas começaram a caçar animal grande regularmente e só nos últimos 100 mil anos – com a chegada do Homo sapiens – humanos pularam para o topo da cadeia alimentar. E isto teve consequências; outros animais no topo da pirâmide, como leões e tubarões, evoluíram para esta posição bem gradualmente, em milhões de anos; isto facultou ao ecossistema desenvolver filtros que impedem leões e tubarões de depredar em demasia. Tornando-se leões mais letais, as gazelas evoluíram para correr mais, hienas para lançar mão da cooperação e rinocerontes para serem mais mal humorados. Em contraste, humanos ascenderam ao topo tão rapidamente que o ecossistema não teve tempo de ajuste; ainda, humanos também não se adaptaram. A maioria dos predadores do topo do planeta são criaturas majestosas – milhões de anos os encheram de autoconfiança. Sapiens, em contraste, parece mais uma ditador de república das bananas – tendo sido até recentemente um subalterno (underdog) da savana, mantém-se cheio de temores e ansiedades sobre sua posição, o que o torna tanto mais cruel e perigoso. Muitas calamidades históricas, desde guerras letais a catástrofes ecológicas, resultaram deste salto açodado (H:11).
Esta descrição animada e colorida de Harari é, naturalmente, uma interpretação (humanos falando de humanos é coisa sempre suspeita); falta saber se a “evolução” concorda. No entanto, foi esta narrativa divertida que deu fama tão destacada ao livro, em particular sua cautela desconstrutiva da empáfia humana; antes de pretender e ser tanta coisa, foi um bicho qualquer. Por muito tempo patinou na savana, até elevar-se cognitivamente acima dos outros animais. Depois deslanchou, mas bem recentemente. E continua, sobretudo, uma fera ambígua.
IV. CORRIDA DE COZINHEIROS
Ponto algo na ascensão ao topo foi a domesticação do fogo. Algumas espécies teriam feito uso casual por volta de 800 mil anos atrás; mas há cerca de 300 mil anos, Homo erectus, Neandertals e antepassados do Sapiens estavam usando diariamente. Humanos conquistaram fonte confiável de luz e calor e arma mortal contra leões espreitando. Não muito depois, humanos começaram a colocar tochas a seu redor; fogo bem gerido podia tornar matas intransitáveis em pastagens para gado domesticado. Ademais, uma vez apagado o fogo, empreendedores da idade da pedra podiam perambular nos restos fumegantes e colher animais carbonizados, nozes e tubérculos. Mas a melhor coisa do fogo é cozinhar. Alimentos não digeríveis in natura – como trigo, arroz e batatas – viraram bases da dieta via cozimento, que, ainda, matava germes e parasitas que infestavam a comida. Havia então tempo maior para mastigar e digerir favoritos antigos como frutas, nozes, insetos e carcaças, se fossem cozidos. Enquanto chimpanzés gastam cinco horas por dia mastigando comida crua, basta uma hora para as pessoas ingerirem comida cozida. Com isso a comida também se diversificou, além de gastar menos tempo comendo, com dentes e intestinos menores. Alguns pesquisadores creem que há link direto entre a chegada do cozimento e o encurtamento dos intestinos humanos e o crescimento do cérebro. Intestinos longos e cérebro grande consomem muita energia – preferiram-se os primeiros (Gibbons, 2007).
Fogo também aprofundou o hiato entre humanos e outros animais; o poder de quase todos os animais depende dos corpos: força muscular, tamanho dos dentes, alcance das asas; embora possam lidar com ventos e corretes, não as controlam, constritos a seu design físico. Águias, por exemplo, identificam colunas termais vindas do chão, abrem suas asas gigantes e facultam que o ar quente as elevem no céu; mas não controlam a localização das colunas e sua carga mássica é estritamente proporcional à envergadura das asas. No entanto, há 150 mil anos humanos ainda eram criaturas marginais; podiam agora meter medo em leões e queimar matas; mas, contando as espécies juntas, não haveria mais que um milhão de humanos vivendo entre o arquipélago indonésio e a península ibérica, “um mero borrão no radar ecológico” (H:P12). Nossa espécie, Sapiens, já andava por aí, mas restringia-se a um canto da África. Não se sabe onde e como animais que podem ser classificados como Homo sapiens evoluíram primeiro de algum tipo prévio de humanos, mas a maioria dos estudiosos concordam que, há 150 mil anos, a África oriental foi habitada pelo Sapiens similares a nós hoje. Concorda-se também que há 70 mil anos, Sapiens saiu da África oriental e se espalhou na península árabe e daí para toda a Eurásia continental. Quando chegou, encontrou outros humanos. O que aconteceu a estes?
Há duas teorias em conflito. A “teoria do cruzamento” fala de uma estória de atração, sexo e mistura; quando Sapiens chegou ao Oriente Médio e Europa, encontraram os Neandertals; estes eram mais musculosos, tinham cérebros maiores e estavam mais bem adaptados ao frio; usavam armas e fogo, eram bons caçadores e aparentemente cuidavam de seus enfermos e deficientes. São muitas fezes descritos como brutos e estúpidos (da caverna), mas evidência recente mudou a imagem. Conforme a teoria do cruzamento, quando Sapiens se espalhou nas terras dos Neandertals, o cruzamento ocorreu a ponto de as populações se fundirem; se tiver sido o caso, euroasiáticos de hoje não são puros Sapiens, mas mistura de Sapiens e Neandertals; de modo similar, quando Sapiens chegou à Ásia oriental, cruzaram com Erectus locais, de sorte que chineses e coreanos são mistura de Sapiens e Erectus. A visão oposta – teoria da substituição – narra outra estória, da incompatibilidade, revulsão e talvez genocídio. Para esta visão, Sapiens e outros humanos tinham anatomias diferentes, talvez também outros hábitos de acasalamento e mesmo odores corporais; teria havido pouco interesse sexual entre si; mesmo se ocorresse acasalamento, a cria seria infértil. As duas populações permaneceram distintas e quando os Neandertals se extinguiram, ou foram mortos, seus genes se foram. Sapiens substituiu as populações humanas prévias sem fundirem-se. Se for o caso, as linhagens de humanos contemporâneos podem ser rastreadas, exclusivamente, até a África oriental, há 70 mil anos e seríamos todos “Sapiens puros” (H:13).
Está em jogo muita coisas em ambas as teorias; 70 mil anos é algo curto na evolução; se a teoria da substituição for correta, todos os humanos têm a mesma bagagem genética e distinções raciais são negligenciáveis. Se a teoria do cruzamento for certa, pode bem haver diferenças genéticas entre africanos, europeus e asiáticos que recuam a milhares de anos, sendo isso dinamite político... A teoria da substituição tem prevalecido por enquanto, por conta de fundamentos arqueológicos mais sólidos e é politicamente mais correta. Mas isto terminou em 2010, quando os resultados de um esforço de quatro anos em mapear o genoma dos Neandertals foram publicados; geneticistas foram capazes de coletar DNA suficiente intacto de fósseis para montar comparação ampla com os humanos atuais. Os resultados surpreenderam a comunidade científica; achou-se que de 1-4% do DNA humano único das populações modernas no Oriente Médio e Europa é DNA de Neandertal; pouca coisa, mas significativa. Segundo choque veio logo depois, quando DNA extraído de dedo fossilizado de Denisova foi mapeado – resultados provaram que até 6% do DNA humano único do melanésios modernos e dos australianos aborígenes são DNA denisovano. Se isto for válido – há pesquisa ulterior em andamento que pode reforçar ou modificar as conclusões – os adeptos do cruzamento acertaram em algumas coisas, mas não significa que a teoria da substituição esteja toda errada. Em vista de que Neandertals e Denisovanos contribuíram com montante pequeno do DNA nosso de hoje, é impossível falar de “fusão” entre Sapiens e outras espécies humanas; embora diferenças não fossem suficientemente grandes para completamente impedir intercurso fértil, eram suficientes para tornar tais contatos muito raros. Parece que, há 50 mil anos, as espécies se distanciaram o suficiente para não se misturarem, em particular, Sapiens já eram bem diferente dos Neandertals e Denisovanos, sobretudo no plano cognitivo e social, mas poderia ocorrer, ainda que muito raramente, algum cruzamento. Mesmo assim, alguns genes do Neandertal pegou carona no Sapiens...
Sobra a pergunta: por que sumiram? Uma possibilidade é que Sapiens, tecnológica e socialmente superior, os levou à extinção. Outra é que a disputa por recursos gerou violência que propiciou a primeira limpeza étnica da história... Temos aí, na saga dos Neandertals, um dos maiores condicionais (se...). Se tivesse havido chance de cruzamento generalizado, como teria sido o futuro deles? Que culturas teriam emergido, religiões, estruturas políticas...? Nos últimos 10 mil anos, Sapiens se acostumou a ser espécie única, a ponto de se pretender ápice da criação e que um abismo nos separa dos outros animais. Quando Darwin indicou que o Sapiens era apenas outro tipo de animal, as pessoas se sentiram ultrajadas. Até hoje, muitos se negam a crer. Os últimos resquícios do Homo Soloensis datam de cerca de 50 mil anos; Homo denisova desapareceu pouco depois; Neandertals sumiram há 30 mil anos; os últimos humanos anões evaporaram de Flores há 12 mil anos – deixaram alguns ossos, ferramentas de pedra e alguns genes em nosso DNA e um monte de questões sem resposta. Qual o segredo do sucesso do Sapiens? A resposta mais provável é a própria coisa que torna o debate possível: conquistou o mundo graças à sua linguagem única (H:18).
CONCLUSÃO
A ciência arqueológica e similares avançaram muito em descobertas de como teria sido nosso passado ancestral. Mas, cada vez que achamos algumas respostas, sobrevêm outras ainda mais inquietantes. Talvez seja mesmo impossível recompor uma saga tão dinâmica, tortuosa, gradual e agitada, com restos arqueológicos. O lado interessante de Harari é o acento que põe nas questões mais provocativas, como a disputa em torno de como aconteceu o encontro entre espécies humanas diferentes, se houve cruzamento a ponto de uma fusão definitiva, ou se a diferença, aumentando, provocou confrontos e rivalidades que deixaram o palco para apenas uma, a cognitiva e socialmente superior... Este tipo de conhecimento é, como diz Harari, dinamite. Alguns vão pescar aí apoios racistas, tão comuns em ocidentais brancos. É particularmente instigante o contraponto entre um animal mais ou menos vagabundo, e o que ele virou depois, o pico da evolução animal. Tudo isso está pendurado numa hipótese científica, por mais que seja hoje tão badalada: seleção natural (evolução natural). Alguns vão dizer que está mais que confirmada; outros preferem manter como a hipótese mais palatável ou em voga, já que ciência não cria verdades inamovíveis. Não será à-toa que há tanta gente ainda apegada ao criacionismo, por conta de uma “fé”.
Pedro Demo (2016)
REFERÊNCIAS
GIBBONS, A. 2007. ‘Food for Thought: Did the First Cooked Meals Help Fuel the Dramatic Evolutionary Expansion of the Human Brain?’, Science 316:5831 (2007), 1,558–60.
HARARI, Y.N. 2015. Sapiens: A brief history of humankind. Harper, London.
[1] Eis a linha do tempo, segundo Harari: Anos antes do presente: 13.5 bilhões – matéria e energia aparecem; começo da física; átomos e moléculas aparecem. Começo da química. 4.5 bilhões – formação do planeta terra. 3.8 bilhões: emergência dos organismos; começo da biologia. 6 milhões – última avó comum de humanos e chimpanzés. 2.5 milhões – evolução do gênero Homno na África; primeiras ferramentas de pedra. 2 milhões – Humanos se espalharam da África para Eurásia; evolução de espécies humanas diferentes. 500 mil – Neandertals evoluem na Europa e Oriente Médio. 300 mil – Uso diário do fogo. 200 mil – Homo Sapiens evlui na África oriental. 70 mil – A Revolução Cognitiva; emergência da linguagem fictiva; começo da história; Sapiens se espalhou a partir da África. 45 mil – Sapiens coloniza Austrália; extinção da megafauna australiana. 30 mil – Extinção dos Neandertals. 16 mil – Sapeinas colônia a Américva; extinção da megafauna americana. 13 mil – Extinção do Homo floresiensis; Homo sapiens é a úncia espécie humana que sobrevive. 12 mil – A Revolução Agrícola; domesticação de plantas e animais; colonizações permanentes. 5 mil – Primeiros reinados, escrita e dinheiro; religiões politeístas. 4.250 – Primeiro império – Império Acadiano de Sargon. 2.500 – Invenção da cunhagem de moeda – dinheiro universal; império persa – ordem política universal “para libertar todos os seres do sofrimento”. 2 mil – Império Han na China; Império Romano no Mediterrâneo; cristiandade. 1.400 – Islã. 500 – A Revolução Científica; humanidade admite sua ignorância e começa a adquirir poder sem precedentes; europeus começam a conquistar a América e os oceanos; o planeta inteiro se torna arena única histórica; surgimento do capitalismo. 200 – A Revolução Industrial; família e comunidade são substituíodos pelo Estado e mercado; extinção massiva de plantas e animais. O Presente – Humanos transcendem os limites do planeta terra; armas nucleares ameaçam a seleção, mais que a natural. O Futuro – Design inteligente se torna princípio básico da vida? Homo sapiens é substituído por super-humanos? (H:P75).