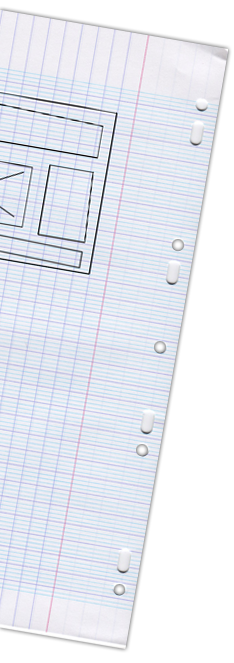Depois de se consolidar nas publicações de obras de ficção do Oriente Médio, a editora Tabla dá mais um ousado passo adiante estreando na não ficção com o provocativo Dez mitos sobre Israel, de Ilan Pappe. Reconhecido como um dos “novos historiadores” israelenses, grupo de acadêmicos que realiza uma crítica contundente à criação do Estado de Israel e ao sionismo, Pappe dispensa apresentações óbvias e tietagens, ainda mais depois da publicação de A limpeza étnica da Palestina pela Sundermann em 2016. Ao associar o termo limpeza étnica, cunhada pelo sociólogo Michael Mann para descrever os acontecimentos da Guerra da Bósnia (1992-95), com a criação do Estado de Israel e a Nakba de 1948, Pappe sofreu duras perseguições e ameaças, o que o levou, em 2007, a trocar Israel pela Grã-Bretanha e a Universidade de Haifa pela Universidade de Exeter, onde leciona ciência política e dirige o Centro Europeu de Estudos sobre a Palestina.

Dez mitos sobre Israel foi publicado em 2017, nos cinquenta anos da Guerra de Junho de 1967 ou a “guerra sem escolha”, um desses dez mitos que Pappe se propõe a desconstruir. Em pouco mais de 250 páginas, a obra está composta de dois prefácios, um da edição de 2017 e outro para a edição brasileira, e divide-se em três partes: “As falácias do passado”, que trata de seis mitos (A Palestina era uma terra vazia, Os judeus eram um povo sem terra, Sionismo é judaísmo, Os palestinos deixaram sua pátria voluntariamente em 1948, A guerra de Junho de 1967 foi uma “guerra sem escolha”); “As falácias do presente”, que trata de três mitos (Israel é a única democracia do Oriente Médio; As mitologias de Oslo; As mitologias de Gaza); e “Olhando para o futuro” que trata do décimo mito (A solução de dois Estados é o único caminho a seguir), além de uma Conclusão (O Estado israelense de colonização de povoamento no século 21) e uma linha do tempo que tem a intenção de ajudar o leitor a identificar os acontecimentos narrados nos dez mitos.
Nessa obra, que é também uma denúncia, Pappe não se furta ao trabalho do historiador: apresenta suas fontes (cartas, documentos, atas de reuniões, relatórios, currículos escolares, artigos de jornais), confronta os dados, dialoga com a historiografia, debate as posições consolidadas, refuta as certezas e desconstrói os mitos sobre os quais o Estado de Israel foi edificado e tem se sustentado no passado e no presente e na sua projeção para o futuro.
Apoio interno e externo
O autor defende que a persistência do mito, sua solidez e a dificuldade de sua desconstrução residem no fato de estar consolidado não apenas em sua narrativa em Israel, para justificar e camuflar sua existência usurpadora, mas porque sempre teve e continua tendo respaldo e apoio interno e externo. De um lado o apoio de países como Grã-Bretanha e sua Declaração Balfour de 1917, e os Estados Unidos e seu protestantismo milenarista; de outro, a ajuda da mídia, da propaganda oficial, dos currículos escolares, dos textos didáticos, dos estudos bíblicos e da arqueologia bíblica que contribuíram para perpetuar uma definição do que era a Palestina mas não a quem ela pertencia, assim como para justificar a expropriação e a ocupação da terra e a desumanização do palestino, visto como usurpador e inimigo eterno.
Para Ilan Pappe há vários autores responsáveis pela criação dos mitos: claramente, Theodor Herzl e o movimento sionista, baseado na fundação de um Estado judeu na Palestina como uma resposta ao antissemitismo europeu; os primeiros colonos do Leste Europeu a ocuparem a “terra vazia”; os judeus comunistas e socialistas que igualaram sionismo ao comunismo; as nações colonialistas que atuaram em interesse próprio; os acadêmicos de grande projeção pública nas mídias e, sobretudo, a sociedade judaica de Israel que se calou, se omitiu e deu carta branca para que suas lideranças continuassem adotando uma política destrutiva sobre o povo palestino. Foi na construção desses mitos e na manutenção de sua narrativa que Israel tem legitimado suas ações e angariado apoio para consolidar sua presença na Palestina, e o direito ao retorno ao mesmo tempo em que nega aos palestinos esse mesmo direito. Assim, os palestinos são os estranhos, estrangeiros, usurpadores; os judeus são os povos originários, autênticos, nativos. A doença e a cura.
Ao analisar esses dez mitos, Pappe apresenta um novo vocabulário para definir a militância judaica na Palestina: Israel é um Estado de apartheid, uma etnocracia racista e judeificada que tem baseado suas ações no terror militar, nas atrocidades cotidianas, nas prisões, na guetificação, nos boicotes, nos bloqueios, na intolerância, no assédio, no abuso, na matança, na desumanização dos palestinos; a Nakba é limpeza étnica — e, não custa lembrar, um crime contra a humanidade —; sionismo é colonialismo e, portanto, ocupação é colonização. Para o autor, são mais de cem anos de violação de direitos humanos na Palestina sob a falsa bandeira da “única democracia do Oriente Médio” — democracia que, Pappe não cansa de reafirmar enfaticamente, se comporta como uma “ditadura da pior espécie” e “um dos regimes mais cruéis de nosso tempo”.
O autor não se contrapõe à ideia de que os povos têm direito de se inventarem — aliás, os mitos estão na origem de povos, nações e Estados ao longo da história da humanidade. Também não há limites numéricos para esses mitos, um ou dez, como os enumerados e dissecados por Pappe em relação a Israel. A questão é quando esses mitos, construídos para legitimar um povo ou um Estado, carregam consigo opressão, racismo, limpeza étnica e genocídio sobre outro povo e sobre um lado da história. Quando esses mitos legitimam narrativas criminosas e permitem que os crimes continuem a ser cometidos impunemente. Como afirma Edward Said em seu artigo “Permission to Narrate” (Permissão para narrar, 1984), que trata dos massacres de Sabra e Chatila e da responsabilidade de Israel na perpetração desse crime, deve-se levar em conta que quem tem a permissão de narrar tem legimitidade para narrar fatos, acontecimentos, mitos e memórias.
Pappe também denuncia a responsabilidade acadêmica dos intelectuais em transformar mitos em verdades, de colaborar com uma narrativa legitimadora de um lado da história ou, por que não dizer, falsificadora da história. Pappe intima o intelectual a se posicionar, o desafia a comprovar com pesquisas a narrativa que corrobora, a dizer o que deve ser dito, a não se omitir para não ser conivente. Ele está ciente de que é preciso coragem para “questionar os mitos fundadores de seu próprio Estado e sociedade”, pois como Said enfatiza em Representações do intelectual (2005), o intelectual deve ser comprometido com o que faz e com o que diz, deve ter ousadia e coragem para se expor, deve causar embaraço, deve ter compromisso e assumir riscos.
Ao ler Dez mitos sobre Israel podemos perceber que Pappe é um intelectual comprometido com seu papel na sociedade, ou melhor, na humanidade, pois não lhe falta coragem para apontar, questionar, destrinchar, desconstruir e denunciar os dez mitos sobre Israel. Em tempo de guerra de narrativas, história oficial, pós-verdades, mitos e contramitos, talvez um título opcional e muito apropriado para essa obra fosse: Dez fake news de Israel sobre a Palestina e os palestinos. É preciso ter coragem. A coragem da verdade, como nos lembra Michel Foucault.
Onde comprar o livro: https://editoratabla.com.br/catalogo/dez-mitos-sobre-israel/