Rushkoff (2010) (R) fez publicação provocativa: programar ou ser programado, instando que as pessoas não sejam apenas consumidoras do computador e internet. À sombra desta preocupação muitos estão a exigir que educadores sejam programadores digitais, precisamente para evitar ser penduricalho da máquina e para incluir isso entre as alfabetizações essenciais dos novos tempos.]
I. INTRODUZINDO
Quando humanos adquiriram linguagem, aprendemos não só a escutar, mas a falar. Quando construímos alfabetização, aprendemos não só a ler, mas a escrever. Avançando na realidade digital crescentemente, precisamos aprender não só a usar programas, mas a fazê-los. “Na paisagem emergente, altamente programada pela frente, termos ou de criar o software ou ser o software” (R:P65). Simples assim: programar ou ser programado. Convém escolher a primeira alternativa para ter acesso ao painel de controle da civilização. Se escolhermos a segunda, pode ser a última chance de fazer. Enquanto tecnologias digitais são, em muitos sentidos, uma excrescência natural do que foi antes, são também marcadamente diferentes. Computadores e redes são mais que meras ferramentas: são como coisas vivas, em si. Diferentemente de um ancinho, uma caneta ou mesmo uma britadeira, tecnologia digital é programada. Significa que vem com instruções não só de uso, mas de si mesma. Como tais, tecnologias acabam por caracterizar o futuro do modo como vivemos e trabalhamos, as pessoas que as programam detêm papel crescentemente importante em moldar o mundo e como funciona. Tecnologias digitais irão moldar o mundo, com ou sem nossa cooperação. Estamos criando um diagrama juntos – um design para nosso futuro coletivo. As possibilidades para progresso social, econômico, pratico, artístico e mesmo espiritual são tremendas. Assim como palavras deram aos humanos a habilidade de passar conhecimento em frente para o que agora chamamos de civilização, atividade em rede poderia logo nos oferecer acesso ao pensamento compartilhado – uma extensão da consciência ainda inconcebível para muitos hoje.
Os princípios operativos do comércio e cultura – desde suprimento e demanda até comando e controle – poderia dar lugar a modo de participação inteiramente mais envolvido, conectado e colaborativo. Mas, por enquanto, muitos acham que redes digitais respondem de modo imprevisível ou mesmo oposto a nossas intenções. Varejistas migram online só para encontrar seus preços rebaixados por agregadores automáticas de compra. Criadores de cultura pegam canais interativos de distribuição apenas para crescerem incapazes de achar pessoas que se dispõem a pagar pelo conteúdo que compravam antes alegremente. Educadores que buscam acessos a pletora global de informação para suas aulas se deparam com estudantes que creem que achar reposta na Wikipédia é pesquisa suficiente. Pais que achavam que seus filhos iriam, via multitarefa, chegar ao sucesso estão agora incomodados pelo fato de que eles já não conseguem focar atenção em nada. Organizadores políticos que acreditavam que internet consolidaria suas bases acham que petições da net e blog autorreferencial agora são substitutos da ação. Jovens que viam em redes sociais modo de redefinir a si e a seus eleitorados através de limites antes sacrossantos estão agora se conformando à lógica dos perfis das redes e achando-se vítimas de marqueteiros e assassinato de caracteres. Banqueiros que criam que empreendedorismo digital iria reavivar uma economia decadente da era industrial estão, ao invés, achando impossível gerar novo valor via investimento de capital. Mídia noticiosa via nas redes de informação oportunidades renovadas para jornalismo cidadão e responsável, a coleta de notícias por 24 horas virou sensacionalista, não rentável e despida de fatos úteis. Leigos educados que viam na rede nova oportunidade para participação amadora em setores previamente isolados da mídia e sociedade, veem ao invés a mistura indiscriminada de qualquer coisa, em ambiente onde o barulhento e lascivo abafam tudo que leva mais de uns momentos para se entender. Organizadores sociais e comunitários que viam na mídia social modo novo e seguro para pessoas se ajuntarem, expressar suas opiniões e deslanchar mudando de baixo para cima estão muitas vezes recuando em face da maneira como anonimato em rede se nutre de comportamento de massa, ataque inclemente e respostas sem nexo.
Uma sociedade que via na internet rota para conexões altamente articuladas e novos métodos de criar sentido está, ao invés, achando-se desconectada, negando-se-lhe pensamento profundo e exaurida de valores duradouros. Não é que isto seja fatal. E não seria se simplesmente aprendêssemos os vieses das tecnologias que usamos e nos tornássemos participantes cônscios dos modos em que são desenvolvidos. Em face de futuro em rede que parece favorecer o distraído sobre o focado, o automático sobre o considerado e o contrário sobre o compassivo, é tempo para parar para pensar e perguntar pelo que tudo isso significa para o futuro de nosso trabalho, nossas vidas e mesmo nossa espécie. Pensar, agora, não é mais exclusividade pessoal, chegando ao organismo cibernético e ao cérebro coletivo. Pessoas são reduzidas a sistemas nervosos externamente configuráveis, enquanto computadores estão livres para fazerem redes e pensar em modos mais avançados do que humanos. A resposta humana, se é que humanos farão este salto junto com máquinas, deve ser organização indiscriminada do modo como operamos nosso trabalho, nossas escolas, nossas vidas e em última instância nossos sistemas nervosos neste novo ambiente.
“Vida interior”, como tal, começou na era axial e foi reconhecida apenas na renascença. É construção que serviu a seu papel em nos levar até aqui, mas vai se afrouxar pra incluir formas inteiramente novas de atividade coletiva e extra-humana. É desconfortável para muitos, mas a recusa em adotar novo estilo de envolvimento nos condena a comportamento e psicologia crescentemente vulnerável aos vieses e agendas de nossas redes – do que temos pouca consciência de estarmos já programados nelas. Resistência é fútil, mas também é o abandono da experiência pessoal escalada para o organismo humano individual. Não somos apenas mente de colmeia operando num plano inteiramente divorciado da experiência individual. Há lugar para humanidade – para todos nós – na ordem nova cibernética. É que já passamos antes por mudanças dramáticas, mas a cada vez fracassamos em explorar as chances. No longo prazo, cada revolução da mídia oferece perspectiva inteiramente nova na relação com o mundo. Linguagem levou para aprendizagem partilhada, experiência cumulativa e possibilidade de progresso. O alfabeto levou à contabilidade, pensamento abstrato, monoteísmo e lei contratual. A imprensa e leitura privada nos levaram a nova experiência de individualidade, relação pessoal com Deus, Reforma Protestante, direitos humanos e Iluminismo. Com a chegada de novo meio, o status quo não só é questionado; é revisado e reescrito por quem tem acesso às ferramentas de criação. Infelizmente, este acesso é elitista – a invenção da era axial de 22 letras do alfabeto não levou a uma sociedade literata de leitores israelenses, mas a uma sociedade de ouvintes, que se ajuntavam na cidade para escutar a torá lida para eles por um rabi.
II. OPORTUNIDADES SEMPRE SÃO ELITIZADAS
Era melhor que ser escravo, mas o resultado ficou muito além do potencial. Similarmente, a invenção da imprensa na Renascença levou não a uma sociedade de escritores, mas de leitores; exceto poucos casos, o acesso era reservado, pela força, para uso dos poderosos. Rádio de transmissão e TV foram na verdade extensões da imprensa: mídia cara e mão única que promovia a distribuição em massa das estórias e ideias de elite mínima no centro. Não fazemos TV; assistimos. Computadores e redes, enfim, nos oferecem a habilidade de escrever; e escrevemos com eles em nossos sites, blogs e redes sociais; mas a capacidade subjacente da era do computador está, na prática, programando – e não sabemos com sair dessa. Simplesmente usamos programas já feitos e entramos em nosso texto conforme diretivas que nos são alheias na tela. Ensinamos aos alunos como usar software de escrita, mas não como escrever software. Têm acesso às capacidades dadas por outrem, não ao poder de determinar as capacidades de criar valor dessas tecnologias e literacias de nossa era sem realmente aprender como funcionam e nos impactam. Assim, ficamos um passo atrás da potencialidade oferecida. Apenas uma elite – por vezes nova elite – ganha a habilidade de plenamente explorar o novo meio. O reste se contenta com o que último meio ofereceu; as pessoas escutam enquanto os rabis leem; leem enquanto os que têm acesso à imprensa escrevem; hoje escrevemos, enquanto a elite técnica programa (R:P136).
Algo ficou ainda pior, em termos de apostas bem mais altas. Antes, fracassar significava nos render à nova elite; na era digital, fracasso poderia significar abandonar nossa iniciativa coletiva nascente às máquinas como tais. Já começou. Ao invés de nos maravilhar com pessoa ou grupo que montou habilidade de comunicação de modo novo, tendemos a badalar ferramentas que comandam isso tudo; não celebramos os astros humanos neste meio, o modo como nos maravilhamos com astros do rádio, filme, ou TV; somos mesmerizados por telas e iPads em si. Pensamos menos sobre como integrar novas ferramentas em nossas vidas do que sobre como simplesmente nos atualizar nelas. Estamos otimizando humanos para as máquinas, não ao contrário. Não estamos apenas estendendo agenciamento humano via novo sistema linguístico ou de comunicação; estamos replicando a própria função de cognição através de mecanismos externos e extra-humanos. Tais ferramentas não são meras extensões do indivíduo ou grupo, mas possuem a habilidade de pensar e operar outros componentes da rede neuronal – ou seja, nós.
Se queremos participar disso, precisamos nos envolver numa renascença da capacidade humanos, não muito diferentes do tempo em que os israelitas receberam novo código de conduta rumo à civilização. A Torá não era subproduto de texto, mas código de ética para lidar com uma sociedade altamente abstrata baseada em texto que iria marcar os dois próximos milênios. Agora, para além de valores éticos, precisamos nos escudar em ciência e lógica que as máquinas a ameaçam trabalhar melhor que nós. As estratégias que desenvolvemos para dar conta de novas tecnologias mediadoras no passado já não servem – por exemplo, o incômodo de imaginar que iria significar ter algo de nosso pensamento feito fora do corpo por equipamento externo é a versão atual do desafio à autoimagem ou “propriocepção” posta pela maquinaria industrial. A era industrial nos desafiou a repensar os limites do corpo humano: onde termina o corpo e começa a ferramenta? A era digital desafia a repensar os limites da mente humana: quais os limites de minha cognição? Enquanto máquinas uma vez substituíram e usurparam o valor do trabalho humano, computadores e redes vão além disso – não só lidam com processos intelectuais – nossos programas repetíveis – mas desestimulam nossos processos amis complexos – nossa cognição de ordem mais elevada, contemplação, inovação e fazeção de sentido que seria o prêmio da “terceirização” nossa aritmética para chips de silício.
O modo para gerir isso é como esses equipamentos de “pensar” são programados. Voltando aos primeiros dias do computador pessoal, podemos não ter entendido como nossas calculadoras funcionavam, mas entendemos exatamente o que faziam por nós: somando um número a outro, achando raiz quadrada etc. Com computadores e redes, ao contrário de calculadoras, sequer sabemos o que estamos pedindo que as máquinas nos façam, muito menos como resolvem isso. Emerge nossa obsolescência enquanto engolimos novas tecnologias alegremente. Não sabemos como programar computadores, nem estamos preocupados com isso.
III. NÃO É O CASO ESTAR SEMPRE CONECTADO
A beleza da rede inicial foi seu atemporalidade. Conversa se dava em quadros de aviso em períodos de suas semanas ou meses; as pessoas entravam na internet via linhas telefônicas, via modem; tomava tempo, mas permitia que online era ato intencional; muito da vida se gastava offline. Conectando-se de diferentes locais em tempos diferentes, a maioria das experiências online eram “assíncronas”; queria dizer que, ao contrário da conversa regular ou chamada telefônica simultâneas, eram como passar carta para lá e par cá. Havia tempo para distinguir os momentos. A net foi lugar para fazer o tipo de deliberação e contemplação que não se podia fazer no mundo às pressas do emprego, filhos, automóveis. Não ocorrendo em tempo real, havia tempo, e isto facilitava envolvimento e colaboração. Até mesmo confrontos acalorados tinham alguma fineza, com tempo para esfriar os ânimos. Isto ajudou a faze da internet uma panaceia imprópria como se fosse a invenção da paz. Mas tecnologias digitais têm viés de fuga do tempo e sincronicidade. Seus sistemas operacionais possuem este design porque computadores pensam muito mais rápido que gente. Podem se dar novas instruções quase que instantaneamente. Programadores não querem que computador dependa de tempo. Operam de decisão a decisão, escolha a escolha, sem nada ocorrer aí pelo meio – tudo é similar formalmente em seus comandos, com respostas automatizadas velocíssimas. Por isso o primeiro “killer app” (aplicativo fatal) foi email. No início, não substituiu a carta, nem a chamada telefônica. Ao invés de achar uma pessoa em casa, email acha onde é para ser achada; ficava à espera; e tinha-se liberdade de responder. Como o controle remoto, não só trouxe a facilidade de mudar de canal no fim do programa, permitiu interromper os programas e ajuntá-los aos pedaços, embaralhando a noção de sequência e tempo.
Tornando-se conexões da internet mais velozes, densas e livres, contudo, vamos adotando uma abordagem de “sempre conectados” à mídia. Os aplicativos ficam ligados, atualizando-se e sempre alertas/prontos. O problema vira de lado: já não tempo para nada mais, porque somos avassalados pela mídia digital (Ophir et alii, 2009). Não é defeito da tecnologia, mas do modo como a operamos. Ao invés de entrar online para ver email, o email chega até nós; ao invés de usar a caixa de entrada como recipiente assíncrono, recebemos nos auriculares toda hora, sem fim. Não estamos atualizados, sempre um pouco atrás, porque não é mais assim que a tecnologia nos busca, é ao contrário: somos agora títeres dela. Temos o mundo no bolso (iPhone), mas é este que nos tem, domina, tiraniza. Podemos, claro, nos desligar – nada impede. Mas a ambiência é de tal ordem que ficar de fora é não existir...
Enquanto críticos e educadores lamentam efeitos da mensagem curta e superficial nos cérebros, mas isto talvez nem seja grande problema, porque os cérebros são máquinas admiravelmente plásticas – vão se acomodando, respondendo reconstrutivamente, como sempre no processo evolucionário. O lado mais complicado é a interatividade superficial, instantânea, o trabalho leviano com informação apenas indicada, nunca digerida, a disponibilidade tirana aos pés da máquina, que nos programa, não ao contrário. Programamos uma máquina que nos programa...
CONCLUSÃO
Muito pertinente a preocupação de Ruschkoff, embora talvez um pouco alarmista. Muitos alegam que estamos num limiar dramático civilizatório, mas é bom lembrar que esta sensação é perene na história humana. O dia do juízo final se repete sem nunca acontecer até hoje. No mundo das tecnologias, por ser muitas vezes espetacular, acarreta fantasias excitadas, indicando o fim dos tempos e a entrada em nova era, mais nova do que a evolução permite. Por trás está a expectativa de que máquinas digitais capazes Inteligência Artificial (IA) podem tornar-se mais inteligentes que humanos inteligentes, virando o sentido da história conhecida – não teria esta mais um ser no timão como nós, mas máquinas que inventamos e que, sarcasticamente, nos reinventam a seu talante, nos subordinando. Esta subordinação se observa cruamente no fato de que, não programando a máquina, apenas consumindo-a, somos consumidos por ela. Alguns apenas conseguem programar, razão pela qual se pleiteia tornar programação digital “a” alfabetização da hora, muito mais efetiva que ler/escrever/contar. Tudo isso se agrava sobremaneira quando o mercado se apropria dessas dinâmicas e fazem delas ocasião de competitividade e lucro, elitizando ainda mais seu acesso.
Essas ameaças em parte parecem ocorrer, em parte podem ser extravagância. Como o ser humano já foi desbancado do centro do universo, não cabe criar outra referência como centro – a IA. Enquanto a inteligência humana é artefato de bilhões de anos de evolução, a IA é produto industrial. Isto não impede que possa ser mais inteligente – dependendo do que se define como inteligente – mas possivelmente temos aí inteligências diferentes que, ao invés de apenas rivalizarem, poderiam complementar-se. Dói na soberba humana ser assim descartado como expressão cada vez mais secundária do universo... Ao mesmo tempo, não se sabe que, programando o computador, ele estaria rigorosamente sob comando... Talvez programar e ser programado acabem sendo dinâmicas similares, complementares ou recíprocas...
REFERÊNCIAS
OPHIR, E., NASS, C., WAGNER, A.D. 2009. “Cognitive control in media multitaskers”. Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (37):15583-15587.
RUSHKOFF, D. & PURVIS, L. 2010. Program or be programmed. OR Books, N.Y.
https://docs.google.com/document/d/1DJimMI6paz-8-WP55uiEzwtDAEbR5Ube1q637-9bxfY/pub




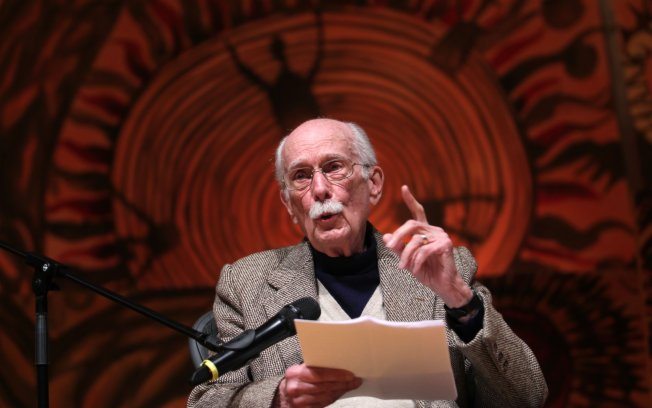






































































.jpg)











